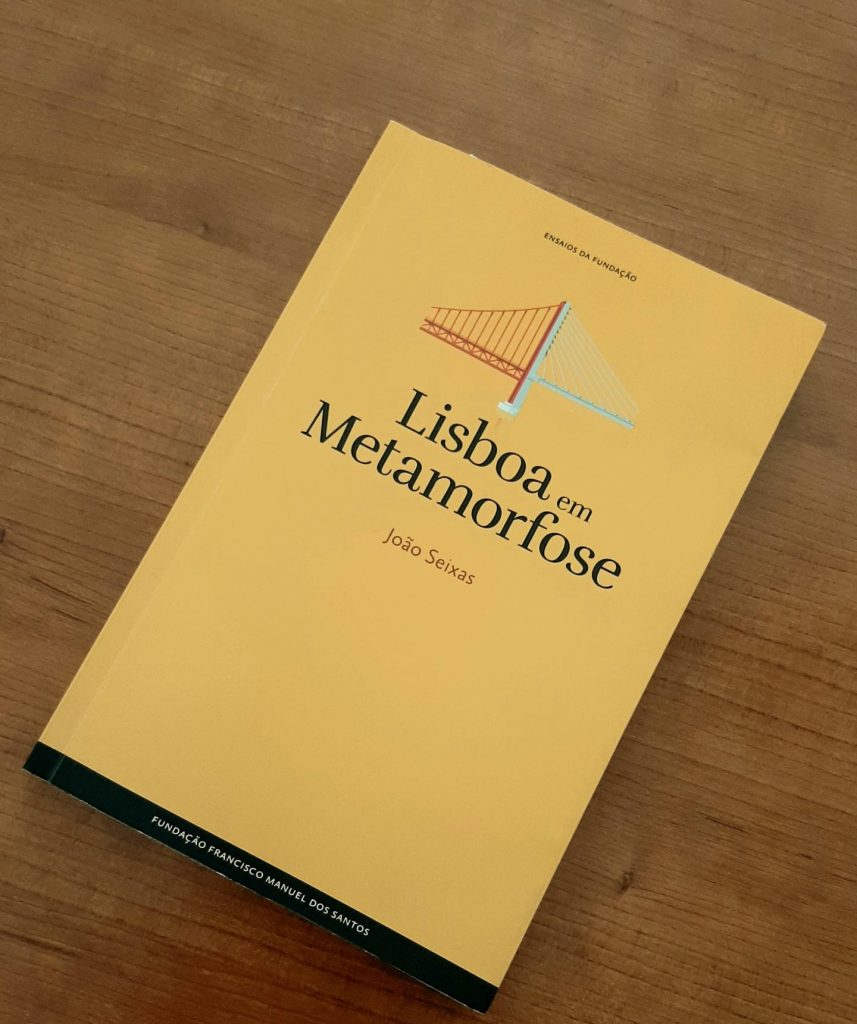
“Lisboa em metamorfose” é o ensaio assinado por João Seixas, investigador do CICS.NOVA da NOVA FCSH, onde reflete sobre a evolução contemporânea da capital. São seis décadas de políticas, urbanismo, geografias e economia que demonstram as diferentes faces da “cidade de cidades”, um organismo vivo em contínua transformação.
O próprio nome do ensaio é uma provocação. A palavra “metamorfose” tem diversos significados, mas possui um denominador comum: mudança. E é sobre essa mudança – repentina, mas ainda a acontecer – que João Seixas, investigador do Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais (CICS.NOVA) da NOVA FCSH, escreveu o ensaio para a Fundação Francisco Manuel dos Santos (FFMS).
O Passado, a Explosão e a Transição guiam o leitor pelos acontecimentos dos últimos 60 anos, e o Horizonte indica o que ainda está por vir porque “entre extraordinárias potencialidades e exasperantes fragilidades, Lisboa encontra-se, de novo, em metamorfose”. As políticas urbanas, as diferentes economias, a habitação, o turismo e a sustentabilidade fazem parte deste rol de mudança, que são colocadas em perspetiva e de uma maneira descritiva em pouco mais de 150 páginas.
Nesta conversa falou-se sobre o setor da habitação, do urbanismo, do plano (inédito) da nova estratégia regional da Área Metropolitana de Lisboa (AML) para 2030 e ainda sobre os desafios que espreitam o futuro da capital.

São 60 anos da metamorfose de Lisboa resumidos em mais de 150 páginas. Porque é que considerou que este era o momento para refletir sobre as políticas urbanas e demográficas de Lisboa ao longo de seis décadas?
Em primeiro lugar porque fui convidado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos (FFMS) e considerei que a escrita deste ensaio é uma coleção que chega à sociedade, muito mais do que os nossos textos, artigos e livros mais académicos. Aliás, o ensaio não tem propriamente referências bibliográficas, tem no final uma secção “Para Saber Mais”. É um ensaio de divulgação, de conhecimento, de divulgação científica. E eu considero que nos tempos atuais, em que precisamos de difundir mais para a comunidade, de comunicar mais para a sociedade as grandes questões contemporâneas, achei que era um trabalho importante que devia fazer. E ainda mais tratando-se de um tema de uma dimensão que em Portugal ainda está muito pouco trabalhada. Ainda há pouco conhecimento social, não académico propriamente, e político sobre as questões da cidade e sobre as questões urbanas.
O livro é sobretudo descritivo, conta uma história. A história desta cidade/metrópole dos últimos 60 anos. Portanto, eu procurei ser mais descritivo do que prescritivo – esse é outro livro que tenho na cabeça, já escrevi uma data de coisas sobre o assunto – e hoje em dia em dia confunde-se muito descrição com prescrição… Convém saber que são coisas diferentes, embora uma boa descrição convide, desde logo, ao pensamento e à formulação de prescrições para o futuro.
Como Oriol Nel•lo referiu, existem “cidade de cidades” e Lisboa é um desses exemplos. O professor escreveu no seu ensaio que “Lisboa detém um caráter de cidade consideravelmente aberto e multicultural”, nem sempre valorizado. O que acha que falta fazer para que estas múltiplas cidades se entreajudem?
Lisboa não é uma cidade, não é município, são várias cidades, é um ecossistema. Cresceu muito, desenvolveu-se nestas seis décadas de uma forma muito pouco pensada; primeiro de uma forma muito repentina, sobretudo a partir da década de 60/70, por isso é que eu começo o capítulo do livro com o nome “Explosão” porque é uma explosão, porque são poucos anos. Três, quatro décadas em que a metrópole explode e estas décadas na vida de uma cidade como Lisboa não é muito, mas alterou radicalmente a sua estrutura. Por isso é que eu chamei Metamorfose ao ensaio: é uma transformação no corpo e na alma de um ser, que não deixa de ser o mesmo ser, mas que se metamorfoseou em pouquíssimo tempo, de uma forma repentina.
E porquê de uma forma repentina? Porque tem que ver com a forma como Portugal não tem olhado para as cidades e não teve uma cultura, uma escola mais antiga de conhecimento urbano e urbanístico consolidada, foram muito parciais esses conhecimentos. Claro que fizemos alguns desenvolvimentos de bairros, de algum tipo de construção de urbanidade em Lisboa, no Porto, em algumas cidades médias, mas não consolidou uma escola forte.
E isso ainda hoje se reflete muito.
Ainda hoje, sim, e ao mesmo tempo o atraso no desenvolvimento social e económico do país. A partir dos anos 60 [do século XX] há uma emigração tremenda para fora do país, mas também há um êxodo rural que se acentua fortemente – já vinha de décadas anteriores – sobretudo para Lisboa e para o Porto, e que é muito pouco pensada, muito mal governada pela política. O que faz com que haja uma fragmentação enorme, uma ocupação do solo tremenda, e, portanto, há dois profundos movimentos: há um movimento das regiões do interior do país, mais rurais, para as grandes cidades, mas esse movimento não corresponde a uma densificação das malhas urbanas existentes ou construídas. É também um outro movimento interno às áreas metropolitanas de periferização, de enorme periferização.
Temos que a proporção da metrópole face ao país era, em meados do século XX, de 15% e passa para quase 30% em 2011. Mas, por seu lado, dentro da metrópole, a população central do município de Lisboa, que era 60% em meados do século XX, passa para 20% em 2011. E agora em 2021 há uma certa estabilização dos grandes números, não dos números firmes. Escrevo que, ao longo destes 50 anos, há cerca de 60 novos fogos, por dia em média, só na AML. Mas isso não é uma história demasiado específica, é uma história que aconteceu em muitas outras metrópoles espalhadas pelo mundo. E isto de uma forma tardia, repentina, muito expressiva e pouco governada.

No ensaio, refere três momentos-chave na cidade: o passado, a explosão e a transição. Este passado foi pautado por vários acontecimentos e um deles é o movimento que se sente do centro para a periferia. Este movimento teve um forte impacto que ainda hoje se sente? Estas assimetrias ainda hoje são palpáveis?
São bastante palpáveis. Embora hoje em dia as dinâmicas principais, de utilização, de uso dos territórios, de fruição dos territórios e de ocupação são já, e cada vez mais serão, com a transição digital e ecológica, cada vez mais diferentes daquilo que foram na segunda metade do século XX. A explosão da metrópole dá-se sobretudo por necessidades habitacionais e uma correspondência dos mercados – financeiros, imobiliários, da banca – e da política para corresponder a essas necessidades habitacionais. Agora, o que acontece é que, quando a democracia chega a Portugal, se constrói, e muitíssimo bem, com enorme sucesso, um Serviço Nacional de Saúde (SNS), uma estrutura de educação pública, uma estrutura de Providência Social, de Segurança Social, de apoio aos mais necessitados – frágil ou forte isso é outra questão, é outro ensaio –, mas não se constrói uma política social de habitação. Deixa-se sobretudo ao mercado essa construção.
É evidente que qualquer tipo de política deve incentivar os mercados para os bens que as sociedades necessitam. Mas há uma componente importantíssima da política, da construção política, que no caso da habitação se tornou parcial. Fez-se alguma política de habitação social, mas não se fez política social de habitação, que é diferente. Isto conjugado com outro fator, que vinha detrás, e que foi apenas parcialmente resolvido, que foram décadas e décadas de rendas antigas congeladas e de contínua urbanização da periferia. A certa altura no ensaio eu falo em congelar o centro e urbanizar a periferia, o que é um erro capital.
As políticas de apoio ao acesso à habitação foram feitas sobretudo através do crédito bonificado e como tal pela propriedade privada, mas ao mesmo tempo houve uma crescente fragilização dos mercados de arrendamento. Uma cidade dinâmica necessita de ter um mercado de arrendamento dinâmico, mas também um mercado de arrendamento justo, acessível e ambos estes atributos têm continuamente falhado para Lisboa, quer por razões antigas – que são profundas, são muito fortes, ainda hoje em dia há muita dificuldade em construir políticas de habitação.
E porquê? No meu entender, porque vimos de décadas de desequilíbrios grandes e de ressentimentos entre as diferentes partes, entre proprietários e inquilinos, ressentimentos que trazem uma profunda carga ideológica. O que não ajuda à construção de políticas mais sustentáveis sociais de habitação. Portanto, em Portugal precisamos de um mercado de habitação, e antes de mercado, políticas de habitação acessível, quer em termos de aquisição, mas sobretudo em termos de arrendamento. E isto ainda não foi criado, está agora a começar a ser tentado, mas continua com esses ressentimentos do passado. A maior parte dos países da Europa está neste momento neste tipo de construção porque já percebeu que é uma das mais graves situações, sobretudo para as novas gerações, que é a maior precariedade habitacional.
Qual é o problema da questão do arrendamento, desta precariedade que Lisboa está a assistir?
Neste momento deparamo-nos como país, como sociedade, até na Europa, como um todo, com vários tipos de desigualdade, de desfasamentos. Estamos neste momento a discutir muito, e bem, e tem de ser mais aprofundado, a questão ecológica e como é que as futuras gerações vão ter que gerir o défice ecológico que deixamos. A par disso, há também outro tipo de desigualdades: há a desigualdade em termos laborais, em termos de rendimentos e em termos habitacionais. Portanto, as novas gerações hoje em dia estão com vários tipos de precariedade, que é uma situação particularmente séria.
Por essas razões, e falando apenas da laboral e da residencial, que já não é pouco, são necessárias políticas sofisticadas, mas muito fortes, muito ativas de provisionamento de oportunidades de emprego e de provisionamento de oportunidades de habitação para as novas gerações em conjugação. Porque o emprego é precário, por isso não podemos estar a construir propostas políticas de habitação que não se coadunem com uma precariedade eventual de rendimentos. Tem de ser muito flexível, mas ao mesmo tempo com muita segurança, com seguros de renda. Portanto, o Estado tem de ser muito ativo nesse aspeto, tem de desenvolver em doses muito elevadas um parque habitacional, primeiro para os mais desfavorecidos, para os mais frágeis, como agora está previsto um parque público, inclusivamente com verbas do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). Mas [esta medida] não vai resolver os problemas habitacionais, sobretudo para as classes médias, médias baixas ou médias altas que não estão a conseguir no mercado – pelo menos nos territórios onde há mais qualidade de vida, mais equipamentos, mais funções, ou seja, nas principais centralidades -, não estão a conseguir. E, portanto, é preciso construir políticas muito nesse sentido para que as gerações mais jovens tenham oportunidades. Creio que está aqui uma das principais razões das nossas questões como país para o futuro.
“Para haver esta transformação política é preciso haver uma transformação de conhecimento, é preciso sabermos o que se passa e pensar sobre o que se passa”
Mas acha que Lisboa está a trilhar esse caminho ou é um caminho muito paulatino?
Não, ainda temos muito que trabalhar a nível político. A política continua a não perceber bem o que é que as cidades realmente necessitam. Estamos a melhorar, há um poder local de novas gerações que percebe as novas questões, mas em termos políticos ainda estamos com grandes desigualdades de entendimento daquilo que são os espaços e os tempos pertinentes da política.
A certa altura, no início do livro, digo que Lisboa tem extraordinárias potencialidades e exasperantes fragilidades. A principal fragilidade, a mais exasperante, é na dimensão política, em que temos uma estrutura de organização, de administração que dificilmente se coaduna com os desafios do presente e do futuro. Temos decididamente que estruturar a Administração Pública portuguesa. Hoje em dia fala-se, e muito bem, da questão da regionalização, da descentralização; eu considero que esses processos têm de ser inseridos numa visão, numa estratégia mais global de reorganização da Administração Pública portuguesa e a descentralização e a regionalização também beneficiarão muito de uma região como Lisboa, é importante referi-lo. Porque em Portugal é importante que os debates incluam Lisboa e incluam a perspetiva de que a região de Lisboa, os territórios de que faz parte a região de Lisboa, também beneficiarão e muito desta reorganização do Estado e da Administração Pública.
Vejo algum crescendo de ressentimento em relação a uma entidade difusa chamada Lisboa pelo país e compreendo porquê, porque não estamos a conseguir fazer as reformas para o presente e para o futuro que o país precisa em muitos setores, portanto seria de muito salutar que esta reorganização fosse feita porque beneficiaria os mais diversos territórios do país, da Guarda ao Algarve, do Porto a Lisboa. Estou convicto disso.
Mas quem está fora do assunto pensará que se está a beneficiar ainda mais a capital.
Mas para isso eu tenho uma frase muito simples: convém não confundir o Terreiro do Paço com os Paços do Município. São estruturas, são entidades e são espaços diferentes. Os Paços do Município é o poder local, que no município de Lisboa é razoavelmente diferente de outros municípios e não deveria ser diferente, no meu entender.
A mais significativa fragilidade exasperante, a meu entender, é a nível político, mas há outras paralelas, porque para haver esta transformação política é preciso haver uma transformação de conhecimento, é preciso sabermos o que se passa e pensar sobre o que se passa e espero, humildemente, ajudar com este ensaio para se refletir um pouco mais sobre a importância das cidades e dos territórios como elemento de desenvolvimento.
Neste processo de transição, refere ainda que foi aprovado em 2020 o documento da nova estratégia regional da AML para 2030. Acha que este é o princípio de uma nova identidade à escala metropolitana?
Não é o princípio, porque as CCDRs (Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional) já existem há algum tempo e na AML também, mas é a primeira vez, no caso de Lisboa, [que] as CCDR de Lisboa e Vale do Tejo e a AML trabalham em conjunto para fazer uma estratégia comum da Grande Lisboa 2030. E isso é muito significativo, porque nunca tinham trabalhado antes em conjunto. As AML estão com novas competências e novas responsabilidades e creio que devem ter mais no futuro, a par da força regional porque uma parte significativa dos grandes desafios de futuro do nosso país vão ser debatidos sobretudo a nível regional.
Acredita que até 2030 a AML vai conseguir os seus objetivos?
Não tenho a certeza, não é minha convicção. Porque ainda somos muito pouco conhecedores das verdadeiras realidades e necessidades dos territórios, creio eu. Estamos a avançar, mas ainda há muito por conhecer, muito por perceber e ao mesmo tempo também estão a existir transformações profundas a nível estrutural: a era digital, as questões ecológicas e as novas formas de utilização e fruição dos territórios, novos tipos de famílias, novas vivências mais globalizantes, portanto tudo isto está em transformação, o que se sobreleva ainda mais, a meu ver, a necessidade de trabalharmos mais às escalas pertinentes.
E há vários tipos de escalas pertinentes: a região de que temos estado a falar, e outra escala extremamente importante é a escala que se chama bairro. E em Portugal temos uma identidade que se chama Junta de Freguesia, que é eleita democraticamente, mas que tem ainda muito pouco poder e que também devia ter muito mais competências, responsabilidades e mais recursos, a meu ver, para atuar a nível mais micro, mais próximo. Fizemos isso na Reforma Administrativa de Lisboa, mas ainda falta fazer isso para o resto do país inteiro.
Em relação ainda à habitação e ao turismo, sabemos que antes da pandemia, Lisboa tinha cada vez mais turistas e provavelmente esse facto pode ter levado a esta explosão de Alojamentos Locais (AL) na cidade.
É reflexo dos desequilíbrios, não é fragilidade. O acentuar muito da economia do turismo em Lisboa é, no meu entender, o reflexo dos desequilíbrios. É evidente que Lisboa tem o ADN de uma cidade aberta, deve sê-lo ainda mais, as cidades devem ser abertas, recetivas para todos os migrantes, para todos os tipos de utilizações, quer seja uma vontade de estar a residir uma vida inteira, quer de passeio, de usufruto e de lazer. Mas são temporalidades distintas, o que condicionam, também, as formas de consumo e de uso distintos no território.
E Lisboa é uma cidade com ADN de abertura e deve ser mantido e deve ser reforçado porque a abertura também transmitirá uma capacidade de renovação, de melhor conhecimento, de inovação e de evolução. Os sistemas fechados em si não são muito inovadores, não são muito resilientes. E sistemas abertos, recetivos ao diferente, nas várias escalas, são inevitavelmente e naturalmente fortes, mais ricos. A questão não é tanto essa, a questão é mais como conseguir conciliar os usufrutos da cidade em termos de diferentes temporalidades, consoante sejam três ou quatro dias de usufruto ou de três a quatro anos. E, portanto, Lisboa pode ter essa gestão. Não a teve até recentemente, precisamente por causa dos desequilíbrios de que já falei, do fraco conhecimento do que é a cidade e de um sobre posicionamento de outras necessidades políticas e económicas.
Agora as grandes questões para o futuro: Que tipo de turismo? Que novo aeroporto? Onde? Que ciclovias? Eu acho que todas estas questões devem ser debatidas em termos de um debate de modelo de progresso de “que cidade queremos para o futuro”. Portanto, as principais questões são essas, que cidade queremos para o futuro, que novo modelo de progresso é que podemos sustentar, em termos ecológicos, em termos de habitação, e a partir daí tomar decisões mais a nível setorial, a nível turístico, a nível de mobilidade, entre outras.
Para si, quais são os principais desafios a nível ecológico na cidade de Lisboa e para a AML?
Eu diria que há quatro grandes áreas de desafios. Um, no habitat. A regeneração dos habitats inclui um enorme esforço da habitação acessível, uma política muito mais musculada do que aquela que existe hoje e do que aquela que se propõe, que é muito insuficiente e sobretudo ao nível do arrendamento acessível para as novas gerações terem direito à habitação.
Segundo, disponibilização de oportunidades de emprego. Também aí o mundo está a mudar muito, hoje em dia há o Hub Criativo do Beato, há um ou dois fab Labs por aí, eu diria um em cada quarteirão para experiências dos jovens. Uma política que pudesse ser não apenas de espaços públicos, mas também espaços privados, espaços cooperativos, parcerias público-privadas, portanto, uma estratégia que pensasse todo este emaranhar de dinâmicas de apoio, de necessidades, para toda uma enorme cidade, uma cidade de cidades. Estes fab labs em cada quarteirão não são apenas empresariais; também devem ser cívicos, de expressões culturais, de espaços de debate, de cidadania, de todas essas misturas. E, no fundo, já temos uma série de equipamentos espalhados onde essa utilização podia ser feita: bibliotecas, hospitais e centros de saúde, centros culturais… Portanto, é só potenciar muito mais aquilo que nós estamos a dinamizar muito pouco.
Ainda há uma revolução einsteiniana que é necessária fazer para a utilização da cidade, conjugando os espaços com os tempos. E [isto] é aquilo que me está a fascinar e que tenho trabalhado nos últimos tempos, que é a revolução no urbanismo. Até recentemente, o urbanismo tem-se, sobretudo, preocupado em disponibilizar espaços para as diferentes funções: para habitar, para trabalhar, para educar. E agora também devíamos pensar nestes espaços em termos da utilização dos seus tempos.
O terceiro é ecologia, que tem que ver com isto de que estamos a falar. Se utilizarmos os espaços de uma forma muito mais rica, não necessitaremos de consumir mais território. Até poderemos receber muito mais população, muitos mais migrações e que é muito importante, porque precisamos muito de densificar Lisboa. De edificar os territórios já construídos, porque é positivo a todos os níveis, desde logo a nível ecológico. E no desafio ecológico, mudar o paradigma da mobilidade, é bem entendido, reduzir a pegada carbónica e, portanto, há aqui um trabalho muito importante a ser feito.
E há o quarto desafio, que poucas pessoas, creio eu, o consideram – talvez aqui na NOVA FCSH acho que o consideram – que é o o nosso sentido de comunidade. Estamos muito separados uns dos outros, muito tribalizados, ainda por cima com as redes sociais, a tribalização das redes sociais são cada vez maiores, o que é muito preocupante e, portanto, temos de construir na cidade espaços de junção de diferentes para construir comunidades. Convém que as comunidades não sejam construídas com base naquilo que se chama identidade, não me agrada demasiado o conceito de identidade, é um conceito escorregadio, às vezes um bocadinho perigoso, mas mais no sentido de território. Que não é a mesma coisa, porque no território podemos e devemos ter muitas classes, muitas identidades, muitos seres diferentes uns dos outros e isso é positivo.
Aquele sociólogo famoso de há 100 anos, o Georg Simmel, escreveu A metrópole e a vida mental e um dos seus escritos chama-se O Estrangeiro, creio eu, em que ele dizia que o estrangeiro é um espelho, são os olhos da nossa comunidade. Esta é uma mensagem muito importante e já outra pensadora do século passado, a Hannah Arendt, também dizia que não gostava demasiado do conceito de identidade. Ela defendia comunidades abertas e com seres muito diferentes, um novo tipo de conceito de comunidade. E como podemos fazer isso? Precisamente através de centros cívicos, de participação pública, de participação política, de concelhos de bairro, de cidade, de uma participação muito mais ativa. E hoje em dia com os smartphones, que vão estar nos nossos óculos – aliás, alguns já estão –, vão ter essa capacidade de interligação muito mais ativa. Mas atenção, muito importante: até agora os sistemas tecnológicos têm sido sobretudo de disponibilização de fruições, de consumos, que ainda são em sistemas fechados. Eu creio que devem estar em sistemas abertos.
O user friendly é user friendly de acordo com determinados padrões. Agora o mais interessante serão aqueles que não sejam apenas user friendly, são aqueles cujas apps, cuja ação, também se enriqueçam. E aqui há um trabalho interessantíssimo a ser feito na área das smart cities que até agora tem sido sobretudo de controlo: saber se o caixote do lixo está cheio, saber se o semáforo abre ou não… mas, agora, será muito mais importante que as tecnologias sejam ao nível de cooperação. E isso é um salto quântico.
“E o direito à cidade não é apenas na Almirante Reis, é também no Cacém, é também no Pinhal Novo”
Quando escreveu este ensaio na pandemia, Lisboa parou, refletiu, respirou?
A pandemia impactou profundamente nas cidades porque as cidades são locais de confluência da Humanidade. Como disse um famoso jornalista de ciência na revista Wired, não é tanto uma questão de quilómetro quadrado é uma questão de metro quadrado. Metro quadrado de direito à habitação, de qualidade laboral, de qualidade de transportes. E a certa altura escrevo que a geografia das desigualdades é extraordinariamente fina, não é a traço grosso. E precisamente como é muito fina, temos de trabalhar com grandes princípios, com grandes capacidades regionais estratégicas, mas ao nível de muito trabalho de proximidade.
E a pandemia acelerou essas desigualdades.
A pandemia acentuou as tendências que vinham de trás, quer as boas quer as más. Acentuou as fragilidades, acentuou as capacidades digitais. Se estamos a aprender, não lhe sei responder. Ainda não tenho a certeza se quando passar este período pandémico mais intenso – já estamos há quase dois anos nele – ainda não tenho a certeza se vamos passar isto com mais inovação e transformação ou se com uma vontade de reincidir nas receitas antigas.
Refere, e cito, “a cidade é uma vasta heteronímia, uma construção coletiva onde se encontram e confrontam uma miríade de interesses, de poderes e de estratégias”. Para si, que heterónimo será Lisboa no futuro?
Quero que sejam muitos, não quero só um! Lisboa será rica se tiver muitos heterónimos, de várias formas de pensar, de vários feitios e que saiba percebê-los como um todo, pensar de forma mais estratégica, como referi, mas que tenha muitos!
Que cidade será Lisboa, para si, em 2030?
Posso dizer a cidade que desejaria: uma cidade de heterónimos, muito diversa, muito rica culturalmente, muito mais justa, uma justiça que é social, mas também espacial, o direito à cidade a todos os níveis. E o direito à cidade não é apenas na Almirante Reis, é também no Cacém, é também no Pinhal Novo e isso é um longuíssimo trabalho a fazer, que tem sido feito com grande esforço nas antigas periferias de Lisboa e nas ultraperiferias dentro da metrópole. Eu gostaria que houvesse aí o direito à cidade, muito mais justo, mais ecológico e tudo isso implica que seja politicamente muito melhor governada.
O conteúdo João Seixas: “A política continua a não perceber bem o que é que as cidades realmente necessitam” aparece primeiro em FCSH+Lisboa.